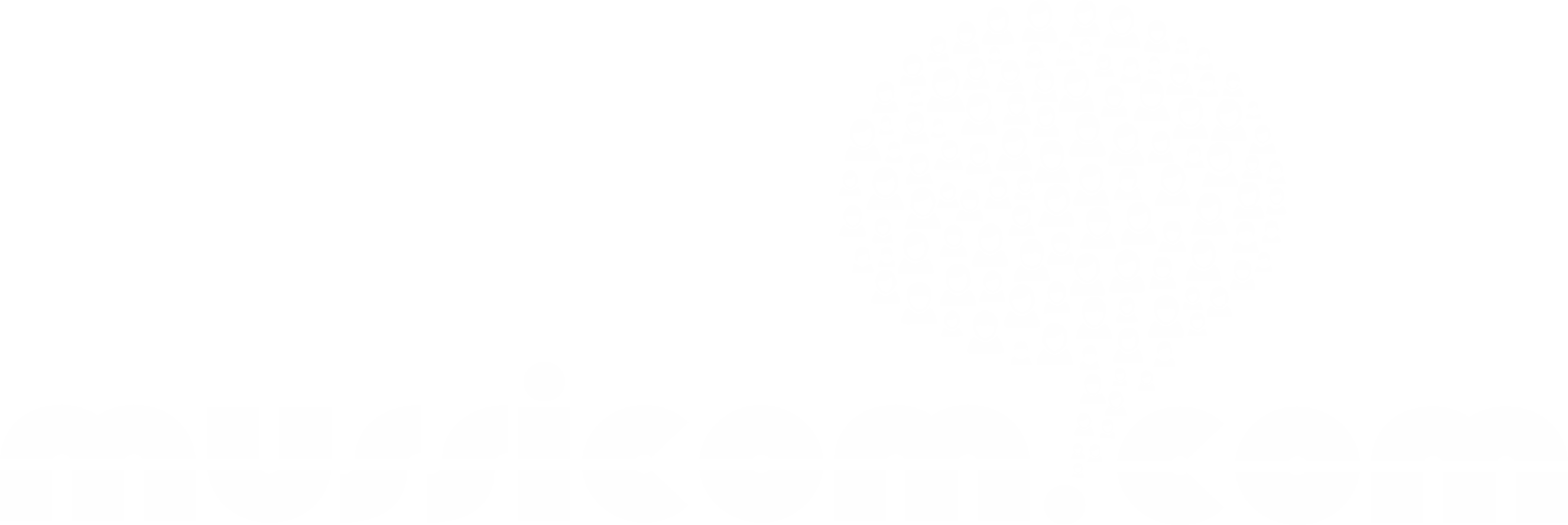Obrigado pela festa, mas Sly nunca pôde ficar. Sly Stone sempre foi o homem-mistério definitivo da música americana, um gênio visionário que transformou o mundo com alguns dos sons mais inovadores das décadas de 1960 e 1970. Com o Sly & the Family Stone, ele fundiu funk, soul e acid rock em um som utópico próprio, em sucessos como “Family Affair” e “Everyday People”. Ainda assim, permaneceu uma figura elusiva, praticamente desaparecendo nos anos 1970. Quando morreu nesta segunda-feira, 9, pareceu estranho saber que tinha “apenas” 82 anos — ele parecia ainda mais velho, como se já tivesse sobrevivido a si mesmo por décadas. Mas sua música ainda soa tão ousadamente futurista e influente como sempre, e é por isso que o mundo continua sentindo essa perda.
Ninguém nunca soou como ele. Sly sabia escrever músicas inspiradoras sobre união — hinos como “I Want to Take You Higher”, que transformavam multidões ao vivo em tribos eufóricas, ou sucessos animadores como “Stand!” e “Everybody Is a Star”, que podem te alcançar em um momento solitário e fazer você sentir que o resto da sua vida é uma chance de se elevar ao desafio que a canção propõe.
Mas isso sempre vinha acompanhado do senso de traição e raiva das ruas. “Everybody Is a Star” soa como uma canção de amor à esperança humana, radiante em cada detalhe sonoro, com Sly cantando “Shine, shine, shine!” Mas também traz a pergunta estranha: “Já tentou pegar uma estrela cadente? Ela só para quando chega ao chão.” Sly Stone queria te lembrar que você era a estrela de esperança no céu — mas também podia ser a estrela que despenca até virar uma cratera.
Todas as suas contradições se encontram em sua maior música, o estouro de funk de 1970 “Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)”, com o ataque de estocadas mais feroz entre baixo e guitarra já feito. O refrão parece alegre à primeira ouvida: “Obrigado por me deixar ser eu mesmo de novo!” Mas quanto mais se ouve, mais se percebe o medo e a raiva. Para Sly, com toda sua fama e fortuna, tudo se resumia a isso: olhando para o diabo. Sorrindo para a arma dele. Os dedos começam a tremer. Começo a correr. É um haicai da morte, ainda mais assustador por ser cantado como um grito de festa. As balas começam a perseguir. Começo a parar. Começamos a lutar. Eu estava por cima. A batida continua girando, mas sem resolução. Não há vitória na batalha de Sly com o diabo — apenas o triunfo temporário de ainda não ter sido derrotado.
Family Stone era seu ideal de banda como uma comunidade autônoma, unindo músicos de raças diferentes, gêneros diferentes, alguns amigos, alguns parentes — todos com uma voz. Sua Family Stone criou o modelo para inúmeros coletivos musicais: Native Tongues, Prince and the Revolution, Afrika Bambaataa e a Zulu Nation, Wu-Tang Clan, OutKast e a Dungeon Family, e por aí vai.
“O conceito por trás do Sly & the Family Stone”, disse ele à Rolling Stone em 1970, “era dar chance de todo mundo suar. Quero dizer… se havia algo pra se alegrar, todo mundo se alegrava. Se havia muito dinheiro a ganhar, qualquer um podia ganhar. Se havia muitas músicas a cantar, todo mundo cantava. É assim que é agora. E, se tivermos algo a sofrer ou uma cruz a carregar — nós carregamos juntos.”
Alguns dos integrantes eram cantores virtuosos, outros só preenchiam uma linha ou duas, mas sempre havia aquele espírito tribal utópico. Sua banda era uma mistura visionária do funk colaborativo de James Brown/Stax/Muscle Shoals com a improvisação anárquica das bandas hippies da cena acid rock de San Francisco, onde ele conquistou seus primeiros seguidores. Como ele mesmo dizia no título do primeiro disco: era uma A Whole New Thing — um som radicalmente democrático onde todo mundo era estrela.
O carisma duro de Sly fez dele uma figura única na cultura pop dos anos 70 — distante, cool, inalcançável, escondido atrás de um sorriso que brilhava como vidro à prova de balas. Ele aparecia em programas como a sitcom Good Times, ambientada em um conjunto habitacional de Chicago, onde a adolescente descolada Thelma tinha pôsteres de Sly e Stevie Wonder no quarto — quase como gêmeos anjo-bom/anjo-mau. Um comediante da BET fazia uma rotina hilária sobre crescer nos anos 70 e ver Soul Train: “Quando criança, eu não sabia o que era droga. Só sabia que tinha algo errado com o Sly.”
Essas contradições estavam sempre embutidas em sua música. “If It Were Left Up to Me” é uma de suas joias mais sarcásticas e engraçadas — um funk rápido de 1973, cheio de promessas cínicas e jogos de palavras, terminando com um irônico “Cha-cha-cha!”
Já “Que Sera Sera”, também de 1973, pega o velho clássico otimista de Doris Day e transforma em um lamento arrastado, cheio de medo, um aviso de que o destino está contra você. “Que Sera Sera” ganhou nova vida em 1989 como o encerramento perfeito de Heathers, com Winona Ryder desfilando pela escola coberta de fuligem e cinzas. Quando Shannen Doherty diz “você está horrível”, Winona responde com um sorriso: “Acabei de voltar.” Uma frase totalmente Sly — por isso é apropriado que Heathers tenha feito de “Que Sera Sera” o hit mais próximo de um retorno que ele teve nos anos 1980 ou 1990.
Sly Stone nasceu no Texas, mas foi criado em Vallejo, cidade operária na Bay Area. Aos cinco anos gravou seu primeiro disco com o grupo gospel da família, The Stewart Four. Já era um prodígio musical, dominando piano, guitarra, baixo e bateria. Jovem ainda, virou DJ na rádio KSOL (“Super Soul”), onde cultivou seu gosto eclético. “Tocava Dylan, Lord Buckley, os Beatles. Toda noite testava algo novo”, disse em 1970. “Eu realmente não sabia o que estava fazendo. Era tudo por instinto. Se tinha comercial de laxante, eu botava o som de uma descarga. Senão ia ficar chato.”
Mas logo se cansou das limitações do rádio. “No rádio”, ele dizia, “descobri muitas coisas que eu não gosto. Tipo, acho que não deveria existir ‘rádio black’. Só rádio. Todo mundo faz parte de tudo.”
Trabalhou como produtor na Autumn Records, gravadora local, onde produziu o hit dançante “C’Mon and Swim” de Bobby Freeman, em 1964. Mas também mergulhou no folk rock inovador dos Beau Brummels, com clássicos de 1965 como “Don’t Talk to Strangers”, “You Tell Me Why” e “Not Too Long Ago”, já com o tom melancólico que traria para sua própria banda. Também produziu uma das primeiras bandas hippies da Bay Area, o grupo pré-Jefferson Airplane de Grace Slick, The Great Society. Para o single de estreia deles — “Free Advice” de um lado, “Somebody to Love” do outro — Sly os empurrou por 286 takes.
Mas a lição mais valiosa na Autumn foi ver todo mundo sendo passado para trás. Foi sua primeira decepção no mundo da música — e ele prometeu que seria a última. Nunca mais se envolveu com projetos que não controlava. Começou então a montar sua própria banda, inspirado pela cena roqueira livre de lugares como Family Dog e Fillmore.
“O conceito era conseguir conceber todos os tipos de música”, disse em 1970. “O que fosse contemporâneo, não necessariamente comercial — o que fosse relevante no agora. Como hoje, coisas como censura, e a questão entre brancos e negros. Isso está na minha cabeça. Então só queremos performar aquilo que está em nossa mente.”
Quando o mundo ouviu “Dance to the Music”, ninguém conseguiu resistir. Vieram sucessos como “Everyday People”, “M’Lady”, “Stand!”, “Hot Fun in the Summertime”. Family foi o destaque de Woodstock, transformando “I Want to Take You Higher” em um grande canto hippie. O público sempre queria mais do Sly — especialmente por causa das promessas utópicas em suas músicas.
Mas ele foi o primeiro grande astro a fazer da ausência uma assinatura artística: atrasava propositalmente, faltava shows, era combativo nas entrevistas. Também demorava demais para lançar novos discos — depois de Stand!, deixou todo mundo esperando 18 meses por novas músicas, forçando a gravadora a lançar o Greatest Hits. (O atraso deu tempo para a Motown criar o substituto perfeito: os Jackson 5, com hits parecidos como “I Want You Back” e “The Love You Save.”)
Quando finalmente voltou, chocou o mundo com There’s a Riot Goin’ On — uma recusa radical em jogar o jogo comercial, com batidas lo-fi e funk experimental. Foi o protótipo de desvios criativos como Kid A, do Radiohead, ou In Utero, do Nirvana — e, como esses, vendeu muito. “Family Affair” é o clássico mais conhecido, com a guitarra blues de Bobby Womack, em uma história de um casal recém-casado se desfazendo. Mas também tem joias como “Spaced Cowboy”, com batidas que lembram Young Marble Giants, antes de se transformar em um orgulhoso delírio drogado com iódolos irônicos do Velho Oeste. “Não posso dizer mais de uma vez, porque penso duas vezes mais rápido”, ele rosna. “Yodel-ay-hee, yay-hee-hoo!”
O momento mais duro é “Africa Talks to You (The Asphalt Jungle)”, com o refrão: “Timberrrr! Todos caem!” Ele disse à Rolling Stone na época: “Escrevi uma música sobre a África porque lá, os animais são animais. O tigre é um tigre, a cobra é uma cobra, você sabe o que ela vai fazer. Aqui em Nova York, a selva de asfalto, um tigre ou uma cobra pode aparecer parecendo, uhhh, você.”
Ele mudou novamente com Fresh, de 1973 — seu funk mais animado e otimista, já começando com “In Time”. É alegre e espalhafatoso como Riot era hostil, mas não menos desafiador. “Let Me Have It All” é a música de amor mais aberta que ele já fez, em ritmo e voz. Mas o álbum inteiro paira entre euforia drogada e colapso. “If You Want Me to Stay”, com sua linha de baixo sonolenta e malandra, avisa que não se pode contar com ele — especialmente se você comprou ingresso para um show onde ele nem apareceu.
Depois de Fresh, sua música despencou. Vieram os fracassos de retorno como Small Talk, High on You e Heard Ya Missed Me, Well I’m Back, com o falso hino “Family Again”. Todos ainda roubavam suas ideias — especialmente Miles Davis — mas o próprio Sly sumiu. Tabloides noticiavam: viciado, falido, vivendo num carro. Os últimos álbuns passaram despercebidos, com títulos forçados como Back on the Right Track ou Ain’t But the One Way, que termina com “High, Y’All”. Os últimos momentos de brilho foram ao lado de George Clinton, seu discípulo mais vocal, no The Electric Spanking of War Babies (1981), disco do Funkadelic, e no hit “Hydraulic Pump” (1983), do P-Funk All-Stars — um prenúncio do techno de Detroit. Mas foi seu último momento de glória em estúdio.
Quando Sly Stone morreu em 9 de junho, foi poucos dias após o 51º aniversário de seu maior ato de celebridade: casar-se no palco do Madison Square Garden, em 1974. Aquele casamento foi, em muitos sentidos, sua despedida da vida pública. “Morrer jovem é difícil, mas se vender é pior”, ele avisava em “Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)”, ainda com vinte e poucos anos. O epitáfio ideal para Sly é que ele conseguiu evitar ambos.
Mas o mundo nunca esqueceu Sly Stone. O excelente documentário de Questlove, Sly Lives! (The Burden of Black Genius), mostrou por quê. Seu legado está por toda parte — até em bandas punk como Turnstile, que transformaram “Thank You” em “T.L.C. (Turnstile Love Connection)”. “Everyday People” talvez seja a única música já regravada por Tom Jones e Joan Jett. “Precisamos viver juntos”, diz a música — embora seu autor tenha feito questão de viver à parte.
Mas ele partiu como um revolucionário musical que não devia nada ao mundo. Cada despedida que precisou dar já estava em “Thank You”: “Começamos a lutar, eu estava por cima.” Sly Stone definiu essa luta contínua em sua música — e conseguiu transformá-la em canções que continuarão mudando e desafiando o mundo para sempre. A mensagem na música continua clara como sempre: todo mundo é uma estrela.
+++LEIA MAIS: Vida, carreira e mais: saiba tudo sobre Sly Stone, ícone do pop, funk e soul
+++LEIA MAIS: Sly & the Family Stone: As 20 principais músicas, segundo Rolling Stone
Fonte: rollingstone.com.br